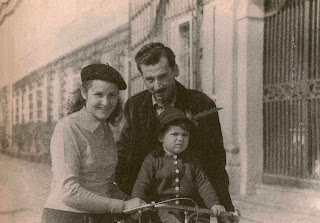O Narciso
da Providência
Marcio Junior[1]
O termo soberania, na nossa língua, tem certa amplitude e é preciso maior
apuração para entender com mais exatidão do que se trata. Dizer que algo é soberano, sem contextualização, explica
pouco. Como adjetivo, precisa se referir a alguém ou a algo, e sem a
“substância”, está fadado a se perder como uma palavra vazia, dando margem a
todo tipo de equívocos. Mas não só: trata-se de um conceito que, como todos, têm
história e seu significado depende do tempo e do espaço.
Nesse sentido, a tradução brasileira de O eu soberano: ensaio sobre as derivas identitárias (2022), da francesa Elisabeth Roudinesco, nos impõe essa tarefa logo no seu título. Vamos ao título original (sem a necessidade do subtítulo): Soi-même comme un roi. Em tradução literal: Eu mesmo como um rei. Agora com maior nitidez sobre o seu emprego, o conceito de soberania está relacionado à ilustração da autora, referida à soberania sobre tudo e toda exercida pelo monarca, cujo posto foi ocupado por figuras importantes ao longo da história da França, marcada pela experiência monárquica.
Este exercício de tradução, apesar
de útil, exige um esforço modesto frente ao que a historiadora da psicanálise
faz nas páginas do ensaio. Afinal, trata-se de tentar explicar como os
movimentos sociais e não só foram contaminados pelo que chama de hipertrofia do
eu: a mudança de rota em direção ao detrimento do que é universal em prol do
particular e intrínseco ao indivíduo. A busca pela mitigação de desigualdades,
por exemplo, não se trataria mais de uma luta que também é global, mas sim de
indignação pessoal onde não há espaço para o diferente. As sociedades, então,
seriam convertidas em identidades hierarquizadas, encerrando a noção do sujeito
que pertence a determinada comunidade e assimila, inclusive em si, o outro.
Na
análise, essa perspectiva, seja em relação às mulheres e homens, aos
homossexuais e heterossexuais, aos negros e brancos ou à teses sobre emancipação
do colonialismo, resulta no surgimento e fortalecimento de um pensamento
obscuro e reacionário, muitas vezes delirante e cheio de conspirações, repleto
de neologismos e leituras erráticas de intelectuais, principalmente do mundo
francófono, que nada tiveram a ver com isso, como Michel Foucault, Frantz Fanon
e Simone de Beauvoir. Nesse caos também de negligências conceituais, onde se
esvazia propositalmente a história dos conceitos para que eles encaixem a
outras situações, tudo é permitido para atender determinadas sanhas. Se a obra
de determinado autor não atende aos interesses, não seja por isso: os conceitos
são distorcidos e esvaziados do contexto em que foram usados para que atendam.
Não se trata de algo novo na
história do pensamento; em O Nome da Rosa,
Umberto Eco ilustra o esforço de intelectuais do medievo para preservar obras
de autores da antiguidade, enquanto outros buscavam destruí-las. Porém, o que
de fato importa é que, no presente, o fenômeno que é, ao mesmo tempo, causa e
consequência desses equívocos é outro e não é novo: o eu se nutre e cresce frente ao nós;
buscando se afirmar mesmo que atropele todo o resto: enquanto portador de pele
negra, por exemplo, o indivíduo estaria condicionado à sua característica
biológica e, por conta dela, seria ele o afirmador da reparação, movida pela
indignação, de uma ideia abstrata de passado escravista, onde quer que ela seja
encontrada. Caso não haja, em outrem, esta característica biológica, este
representa o ideal daquilo que se quer combater, afinal é a biologia pura que
define a identidade e, portanto, a hierarquia que dispõe as forças na arena da
luta social. As classes, portanto, estariam ultrapassadas enquanto, inclusive,
categorias analíticas.
Como é possível imaginar, não é uma
lógica que opera dentro da Democracia e da República; muitas vezes são alvos.
Podemos imaginar como que sociedades divididas pela lógica reacionária das
identidades hierarquizadas possuam dificuldades em operar democraticamente,
como o caso libanês que, além de ter sido citado pela autora, é muitíssimo bem
ilustrado no filme Incêncios, de
Denis Villeneuve; do ponto de vista da República, basta lembrar as estátuas,
monumentos que fazem parte da coisa pública e podem ser utilizadas para boa e
crítica reflexão históricas, que foram queimadas como portadoras de um ideal de
passado colonial.
Porém,
é necessário refletir que o fenômeno pode vir a ser sintoma de algo mais
profundo e mais complexo. A derruição progressiva do tecido social, das
relações entre as pessoas, está à vista de todos e a afirmação excessiva de si
mesmo contribui para minar os laços de solidariedade. Essa anomia é complexa e
deriva de um novo mundo em que estamos marcados por mudanças profundas e
dolorosas. O adoecimento da sociedade segue seu curso, obrigando os indivíduos
a confrontarem a si próprios ao modo de um Narciso. A incapacidade social de
dar respostas concretas aos seus problemas gera, inclusive, sofrimento
psíquico: não é possível uma sociedade minimamente onde todos são reis e estão
acima dos outros, em eterno conflito.
Na festa de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a voz da atriz Regina Casé ecoou, em português, pelo Maracanã e por todos que assistiam no planeta: “Chega de briga. Estamos aqui hoje para buscar as nossas semelhanças e, principalmente, celebrar as nossas diferenças”. Seremos nós, os brasileiros, sociedade altamente miscigenada, como nas concepções de um Gilberto Freyre e de um Mário de Andrade, que iremos abrir mão do que melhor produzimos em termos de pensamento e celebrar nosso bicentenário dando ao mundo a piora da doença e não o remédio para superarmos esses tempos de anormalidade?
[1]Doutorando em Ciências Sociais em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade pela UFRRJ e professor do Instituto Devecchi.